|
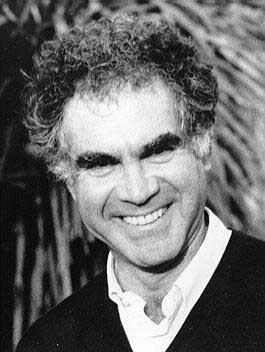 |
|
Carlo Ginzburg |
O historiador italiano fala de "Nenhuma
Ilha É uma Ilha", que está saindo no Brasil, e defende que a ficção pode
ter uma influência prática sobre o real
Adriano Schwartz
especial para a Folha
O italiano Carlo Ginzburg
(1939) é um dos principais historiadores vivos e um grande ensaísta. Nos
quatro textos de "Nenhuma Ilha É uma Ilha" [Companhia das Letras, trad.
Samuel Titan Jr., 152 págs., R$ 30], dedica-se em especial a questões de
literatura inglesa.
No primeiro deles, ele discute
a que gênero se filia a "Utopia", de Thomas More; no segundo, debate a
rixa sobre os "meandros do verso grego, italiano ou inglês" no período
elisabetano; no terceiro, tenta mostrar como "Tristram Shandy", de
Laurence Sterne, foi influenciado pelo "Dicionário Histórico e Crítico"
de Pierre Bayle; no último, ele aponta uma inesperada relação entre as
idéias do antropólogo polonês Bronislaw Malinowski e o conto "O Demônio
da Garrafa", de Robert Louis Stevenson.
Apesar de os ensaios
apresentarem a usual enorme erudição do autor, de quem a Companhia das
Letras já lançou, entre outros livros, "O Queijo e os Vermes" e "Os
Andarilhos do Bem", é difícil que a sua leitura não provoque alguma
decepção em quem acompanha sua obra pregressa.
Os textos não têm nem a carga teórica inventiva de um "Sinais: Raízes de
um Paradigma Indiciário" (em "Mitos, Emblemas, Sinais") nem a percepção
precisa e necessária de "Um Lapso do Papa Wijtyla" (em "Olhos de
Madeira"), para citar dois exemplos indiscutíveis entre muitos outros.
"Nenhuma Ilha É uma Ilha" é um
livro, mais do que todos os mencionados acima, para especialistas. Ainda
assim, propicia uma série de questões sobre a relação entre literatura e
história. Algumas delas foram respondidas a seguir, na entrevista que
concedeu por e-mail ao Mais!.

Entre as suas declaradas influências estão críticos como Leo Spitzer
e Erich Auerbach, que são influências também de Quentin Skinner, com
quem o sr. polemiza no primeiro ensaio de seu livro. Não é curioso que,
em maior medida, a sua obra, mas também a de Skinner, sejam hoje tão
relevantes para os críticos literários e os textos de, principalmente,
Spitzer e, um pouco menos, de Auerbach estejam bastante deixados de
lado?
Antes de responder a sua questão, pode ser útil recordar alguns fatos.
Na década passada, foram publicados os anais de três conferências
internacionais a respeito da obra de Auerbach [no Brasil (1994), EUA
(1996) e Alemanha (1998)]. Outra conferência sobre ele está marcada para
dezembro, em Berlim, e, entre seus participantes, estarão Luiz Costa
Lima, Horst Bredekamp e acadêmicos de todo o mundo. Longe de
enfraquecer, o interesse no trabalho de Auerbach está mais vivo do que
nunca.
No caso de Leo Spitzer, você tem razão. Aparentemente, os seus grandes
ensaios não atraem muito as novas gerações. Por quê? O fato de Spitzer
nunca ter escrito um livro abrangente (embora assistemático) como
"Mímesis" [ed. Perspectiva], de Auerbach, me parece totalmente
irrelevante. Como alguém explicaria, então, o enorme impacto da obra de
Walter Benjamin, fragmentária, não-terminada, obscura?
Posso procurar por uma resposta em uma direção diferente. Tanto Auerbach
quanto Benjamin, que se conheciam e trocaram correspondência, se
aproximaram da literatura como um fenômeno que poderia ser entendido
apenas à luz de alguma outra coisa e poderia esclarecer algo -a
sociedade, a história etc. Em outras palavras, ambos se aproximaram da
literatura a partir de uma perspectiva profética: óbvia no caso de
Walter Benjamin, implícita no caso de Erich Auerbach.
Spitzer foi diferente. Ele se centrou exclusivamente na literatura,
usando uma abordagem que conectava filologia e psicologia (uma relação
problemática).
Mas ele não foi um crítico de críticos: sua vitalidade contagiosa,
brilhante, histriônica merece uma audiência muito maior. Ele a
encontrará um dia.
A sua descrição de "Utopia", de Thomas More, não a aproxima da
concepção de romance de Bakhtin, tanto pelas ligações com Luciano e o
sério-cômico quanto pela idéia de diálogo permanente entre ficção e
realidade?
Bakhtin está constantemente em minha mente. Mas, no caso de "Utopia", a
referência a Luciano era óbvia, por muitas razões, a começar pelo fato
de que Thomas More e seu amigo Erasmo traduziram alguns diálogos do
autor latino. Mas, se não estou enganado, meu uso de Luciano para ler a
"Utopia" foi diferente do usual e me levou a conclusões distintas.
Argumentei que os elementos ficcionais do texto de More, além de serem
parte de uma estratégia deliberada, foram um instrumento que abriu uma
série de possibilidades cognitivas. Por meio dessa ilha imaginária, More
pôde ver (e descrever) uma realidade sem precedentes: a destruição do
velho sistema agrário, processo que, a longo prazo, foi um dos
pré-requisitos da Revolução Industrial.
Esse é apenas um exemplo de um fato bem sabido, mas muitas vezes
esquecido: algumas ficções, tanto legais como literárias, podem ter
influência cognitiva ou prática sobre a realidade. Lidei extensivamente
com essa idéia neste livro que está saindo agora no Brasil, bem como em
"Relações de Força".
A sua forma de estruturar o texto, baseada em pequenos conjuntos de
parágrafos numerados, lembra, para permanecer em seu vocabulário
teórico, a exposição de uma série de indícios. Ainda que seu texto não
se negue a estabelecer conclusões, tenho impressão de que, com o passar
dos anos, o sr. está cada vez mais preocupado com a exposição do que com
um veredicto final, ampliando o que se poderia chamar de "margens de
silêncio" em seu texto. Essa impressão é verdadeira?
Aceito a expressão "margens de silêncio", mas com uma qualificação.
Tenho a impressão de que estou tão comprometido como sempre estive em
chegar a uma conclusão e anunciá-la (uma demonstração, se você
preferir), mas estou cada vez mais interessado em envolver o leitor na
minha busca. Essa estratégia é aprimorada pelo ensaio, como forma
literária, uma vez que elipses, atalhos, silêncios são mais facilmente
aceitos em um ensaio. Eu me aproveito dessas possibilidades para
estabelecer uma relação mais exigente com meu leitor. Mais exigente e
(espero) mais satisfatória.
Ainda falando de indícios, há, do ponto de vista literário, uma
discussão que se aproxima de seu famoso ensaio "Sinais". O escritor
argentino Ricardo Piglia costuma defender a idéia de que a literatura
atual é dominada pelo gênero policial, tendo escrito que, "em mais de um
sentido, o crítico é o investigador, e o escritor é o criminoso". Qual é
sua opinião sobre isso?
Concordo, mas o romance policial é um episódio em uma história muito
mais longa. "Édipo Rei" já encena um enredo em que o protagonista
decifra os traços de seu próprio crime. Pergunto-me se essa atitude não
está no centro da literatura: um jogo de esconde-esconde entre o
escritor e seu primeiro leitor: ele mesmo.
"Tristram Shandy" é uma das mais importantes influências de Machado
de Assis. O terceiro ensaio de seu livro se torna assim muito importante
para a crítica brasileira...
Devo confessar que, quando li "Tristram Shandy" pela primeira vez, ainda
não tinha conhecimento do trabalho de Machado de Assis. Mas "Dom
Casmurro" (uma das mais inesperadas experiências de leitura de toda
minha vida) também afetou minha percepção do livro. Como T.S. Eliot
disse de modo célebre, uma obra verdadeiramente original cria,
retrospectivamente, a sua própria genealogia...
Adriano Schwartz é doutor em teoria literária
pela USP e autor de "O Abismo Invertido - Pessoa, Borges e a Inquietude
do Romance em "O Ano da Morte de Ricardo Reis'" (ed. Globo).
(© Folha de S. Paulo)
|